Uma história racista da maconha no Brasil
- Vitor Guedes Gonzales
- 29 de mar. de 2023
- 7 min de leitura
Ó diamba sarabamba
Quando eu fumo a diamba
Fico com a cabeça tonta
E com as minhas pernas zamba
Diamba matou Jacinto
Por ser um bom fumadô
Sentença de mão cortada
P'ra quem Jacinto matô
versos de um Clube de Maconheiros no Vale do Mearim, Maranhão
Maconha, cânhamo, bangue, diamba, liamba, birra, ganza. Existem vários sinônimos na língua portuguesa para a planta do gênero Cannabis, que hoje está em um campo de disputa ideológica, moral e médica, um amontoado de argumentos de todas as ordens e grupos sociais em torno de uma única questão com duas respostas possíveis: proibir ou legalizar? Essa pergunta tem sido de interesse público desde antes da percepção do desastre da “guerra às drogas” comandada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria.

Em dezembro de 1915, José Rodrigues da Costa Dória, um médico e político sergipano - duas profissões não só não excludentes para a República como quase que simbióticas -, participou do Segundo Congresso Científico Pan-Americano em Washington D.C., nos Estados Unidos, e apresentou o primeiro trabalho publicado sobre a maconha no Brasil: “Os fumadores de maconha: efeitos e males do vício”. O dr. Rodrigues Dória tinha sido aluno de Nina Rodrigues, um higienista e eugenista maranhense, conhecido e criticado hoje por suas obras a respeito da inferioridade dos negros com base na ciência - um lembrete muito bom para os cientistas de que o racismo já foi justificado com argumentos científicos e de que nada pode escapar à crítica, especialmente a própria ciência. O dr. Dória, logo no segundo parágrafo do seu artigo para o Congresso, lamentou que uma das consequências da escravização de africanos no Brasil tenha sido “[...] o vício pernicioso e degenerativo de fumar as sumidades floridas da planta aqui denominada fumo d’Angola, maconha e diamba [...]”.
É curioso, mas absolutamente nada surpreendente, a associação entre a população negra de origem africana e as noções de degeneração, vício, toxicomania. O desejo da nova República de 1889 era, inclusive, de enbranquecer a população brasileira para livrar o país das degenerações hereditárias que, por grande sorte e destino, não acompanhavam a civilização branca.
Não é possível determinar com algum grau de certeza quem introduziu a Cannabis na colônia portuguesa do Brasil. Por outro lado, a documentação mostra que os portugueses já conheciam a planta e o consumo dos seus produtos estimulantes através dos islâmicos que ocuparam a península Ibérica até o século XVI e com seus contatos comerciais na Índia e na África; no continente africano, provavelmente o consumo em várias formas - como o haxixe ou o fumo da folha seca - entrou pela península Arábica em algum momento do século I d.C. Os africanos eram muito conhecedores dos efeitos inebriantes canábicos e certamente foi atribuido a eles a culpa por toda a sorte de vícios, inclusive no século XX.

Fotografia de um fumador de diamba tirada do livro Maconha. Coletânea de Trabalhos Brasileiros, de 1958, feito pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária do Ministério da Saúde com a seguinte legenda:
"Dizia que, nas ocasiões de furtar, era excelente umas fumacinhas de maconha; diminuia muitíssimo o terror das leis, desapareciam os óbices para o 'trabalho', aumentava a coragem e a fôrça para realizá-lo em tôdas as suas conseqüências. (prof. João Mendonça)"
A ausência de muita documentação sobre o uso medicinal ou recreativo da Cannabis no Brasil colonial é uma evidência de que a planta era mais usada para a produção da fibra do cânhamo em cordas, velas, sacas e objetos de uso mais prático, cuja documentação é mais fácil de ser encontrada. No século XVIII foram feitas tentativas de criar companhias privadas e estatais para a produção da fibra do cânhamo, especialmente no que hoje é a região Sul do país, que faliram nas primeiras décadas do século XIX.
Até o século XVIII, as menções ao consumo da maconha como droga foram muito esporádicas e associadas a contravenções morais e religiosas. Os europeus do século XVIII redescobriram as propriedades canábicas, embalados por uma moda orientalista que fez o continente criar gosto por tudo aquilo que era exótico pra eles - coisas como pirâmides e múmias egípcias, a sensualidade de odaliscas islâmicas, vestimentas indianas e chinesas e artefatos culturais que hoje estão em dezenas de museus europeus. No lado brasileiro, esse novo hábito não criou grandes entusiasmos, era ainda visto como vício de gente baixa, vulgar, de escravos e criminosos, que consumiam o haxixe na mesma proporção que o álcool da cana e o tabaco.
A República brasileira de 1889 precisava se afastar urgentemente do seu passado colonial, que era sinônimo dessas barbaridades baixas e degenerações, e ingressar na fila dos países civilizados; foi isso que justificou, por exemplo, a grande reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro no início do século XX que foi gatilho para a Revolta da Vacina, em 1904, e que transformou a capital em um campo de guerra entre o Estado e os “bestializados” - título do livro clássico de José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro, sobre a incapacidade da República de criar cidadãos brasileiros. Foi esse o contexto que recebeu o artigo “Os fumadores de maconha: efeitos e males do vício” do dr. Rodrigues Dória em 1915; um Brasil que precisava ser civilizado, ser sanado dos vícios do entorpecentes, livrar-se do alcoolismo e do consumo de narcóticos que acometiam as classes pobres e baixas da sociedade que não foram encaixadas na ideia de cidadania brasileira.
No plano internacional, os Estados Unidos engataram uma batalha proibicionista desde 1920, cujo foco de campanha era fundalmentalmente o álcool, visto como o maior inimigo da civilização por associações religiosas, também impulsionadas por ideias racistas e defendidas por grupos de supremacistas brancos como a Ku Klux Klan, uma falange voluntária ideal para executar a tarefa de fiscalizar e purificar a sociedade dos seus elementos mais indesejados, majoritariamente populações de imigrantes e negros. O desejo de criar uma utopia moral e pura de elementos nocivos talvez seja muito mais conhecido pelo projeto nazista de supremacia ariana na Alemanha das décadas de 1930 e 1940, mas as ideias de eugenia encontraram ouvidos atentos em públicos de todo o Ocidente desde o século XIX.

Em julho de 1921, durante a presidência de Epitácio Pessoa, foi sancionado o Decreto n. 4294 que criminalizou a venda de entorpecentes como cocaína, ópio e derivados e a exposição pública em estado de embriaguez; a legislação foi reforçada em 1932 pelo Decreto n. 20.930 que incluiu mais uma lista de “substâncias tóxicas de natureza analgésica ou entorpecente”, incluindo, pela primeira vez, a “canabis indica”. A partir da década de 1930, durante os governos de Getúlio Vargas, as medidas de combate ao consumo de vários tipos de drogas foram reforçadas, especialmente a partir da ditadura do Estado Novo, em 1937. O problema do maconhismo, como era definido pelos médicos, escapou do campo médico, onde foi criado, para se transformar em um problema social, associado às classes mais baixas, a “maloqueiros” de todo tipo: ladrões, vagabundos, prostitutas, militares de baixa patente, ambulantes, estivadores, todos eles “bestializados”.
Problema de marginalizados até o canabismo transpor a barreira que os separava dos “cidadãos de bem” na década de 1960. Os jovens da classe média da nova geração passou a importar o hábito do fumo da maconha dos Estados Unidos e da Europa, ou seja, nenhuma referência à herança maconhista escravocrata; a droga não vinha de baixo, das franjas sociais, vinha de cima, do mundo civilizado e desenvolvido, da inspiração em intelectuais, artistas e toda sorte de figuras vistas como modernas e avant-garde. O consumo da maconha no Brasil passou por uma alteração de percepção pública, especialmente na década de 1970, confeccionada por periódicos mais receptivos ao canabismo da juventude de classe média e alta e predominantemente branca, revisando as opiniões sobre a Cannabis até a década de 1950 e relativizando o seu impacto fisiológico e social, diminuindo seu efeito de degeneração e ganhando um novo status, adequado aos novos tempos: o de porta de entrada para outras drogas com maior potencial destrutivo e degenerativo como a cocaína.

Na Ditadura militar, a preocupação em relação à maconha era moral e social - a iniciação de um caminho para outros entorpecentes perigosos - e, acima de tudo, ideológica, associada aos pensamentos mais progressistas, new age, hippies, artistas, comunistas - todos a quem as gerações que foram educadas durante o regime militar ainda apelidam de “maconheiros” no século XXI. Só ao final da Ditadura, na década de 1980, foi possível que pessoas como Elisaldo Carlini, médico e professor da Unifesp, propusessem seriamente discussões sobre a descriminalização e o uso terapêutico da Cannabis, discussões que circulavam em congressos e associações internacionais no hemisfério norte.
Recortes da revista "O Pasquim" de 28/11 a 4/12 de 1980
De um ponto de vista social, a maconha continua sendo percebida como um mal menor, uma irreverência juvenil, uma droga sem efeitos letais ou de superdosagem, combatida ainda pela bancada evangélica no Congresso Nacional e por indivíduos conservadores, ainda agarrados ao argumento da “porta de entrada” da droga mais consumida no mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Por outro lado, o Brasil mantém seu passado escravocrata e racista na medida em que as populações negras são acusadas e condenadas proporcionalmente mais do que as populações brancas na mesma situação. Negros são estatisticamente mais abordados como suspeitos pelas polícias, apreendidos com quantidades menores do que as portadas por brancos e tratados pela mídia de maneira consideravelmente desfavorável em títulos, lídes e escaladas de notícias. Os filtros pelos quais a questão da maconha chegam para a sociedade não são os da imparcialidade mítica ou da fantasia da isenção ideológica de figuras públicas ou do jornalismo, são filtros antiquíssimos herdados do passado colonial brasileiro e que expõem a imensa disparidade entre classes sociais e etnias que o “fumo de negro” simboliza, a diferença entre um “traficante” negro e um “estudante” branco que consomem o mesmo cigarro de maconha.
Bibliografia
BRASIL, Minstério da Saúde, Serviço Nacional de Educação Sanitária. Maconha. Coletânea de Trabalhos Brasileiros. Rio de Janeiro, 1958
CANCIAN, Natália; BOLDRINI, Angela. Bancada evangélica pode travar proposta de plantio da Cannabis. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 de dez. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/12/bancada-evangelica-pode-travar-proposta-de-plantio-da-cannabis.shtml>. Acesso em 5 de jul. 2022
DOMENICI, Thiago; BARCELOS, Iuri. Negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo. A Publica. 6 de mai. 2019. Disponível em: <https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em-sao-paulo/>. Acesso em 5 de jul. 2022
FRANÇA, Jean Marcel C. História da maconha no Brasil. São Paulo: Três Estrelas, 2018
IGLESIAS, Francisco de Assis. Caatingas e chapadões (notas, impressões e reminiscências do meio-norte brasileiro, 1912-1919). 1ª ed.
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1951.
MCGIRR, Lisa. The War on Alcohol. Prohibition and the Rise of the American State. Nova York, W.W. Norton & Company, 2016
O PASQUIM, Rio de Janeiro, n. 596, 1980
SAAD, Luísa. "Fumo de Negro": A criminalização da maconha no pós-abolição. Salvador: EDUFBA, 2018
TORCATO, Carlos Eduardo M. "Breve História da Proibição das Drogas no Brasil: Uma Revisão. Rev. Inter-legere, UFRN, Natal, n. 15, jul./dez., pp. 138-162
UNODC. UNODC World Drug Report 2020: Global drug use risigin; while Covid-19 has far reaching impact on global drug markets. Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory---global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html#:~:text=Cannabis%20was%20the%20most%20used,million%20people%20using%20it%20worldwide.>. Acesso em 5 de jul. 2022
Imagens
"Prof. José R. Costa Dória" (Alberto de Aguiar Pires Valença; óleo sobre tela; s/d; Base de Dados Digitais, Patrimônio Artístico e Cultural da Ufba
Dr. Raymundo Nina Rodrigues (autor desconhecido, óleo sobre tela; s/d; Comissão Permanente de Arquivo, Ufba)
Fumador de diamba. Maconha. Coletânea de Trabalhos Brasileiros,1958, p. 89
Elisaldo Carlini (Cercomp, UFG)
"Images of America", Biblioteca do Congresso, EUA, 2013
O Pasquim, Rio de Janeiro, n. 596, 1980, p. 11






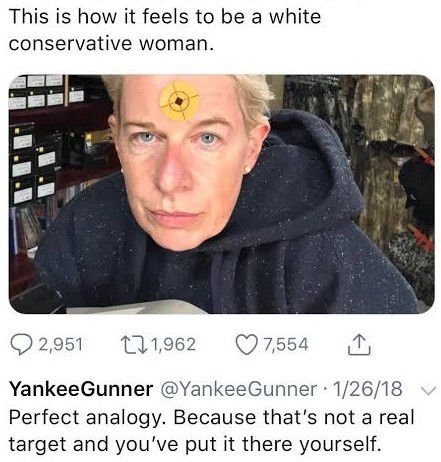


Comentários